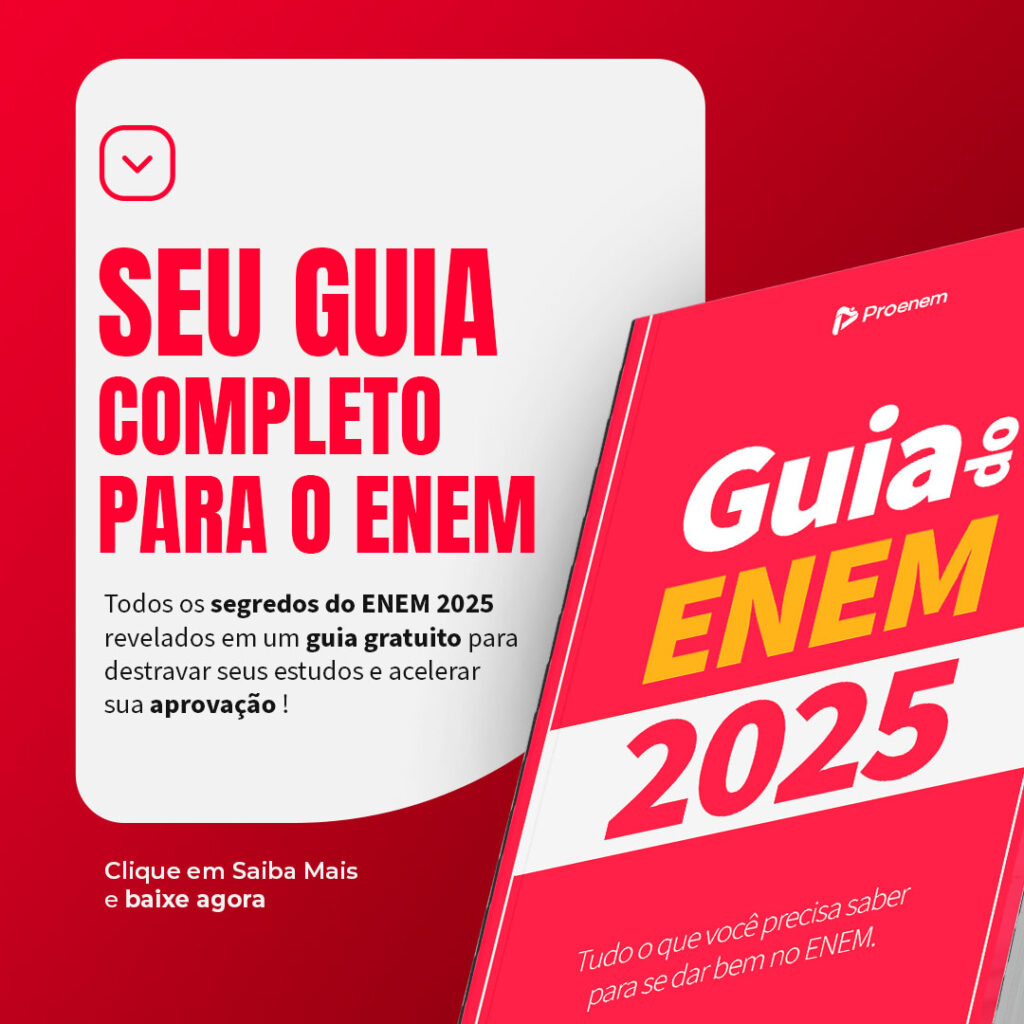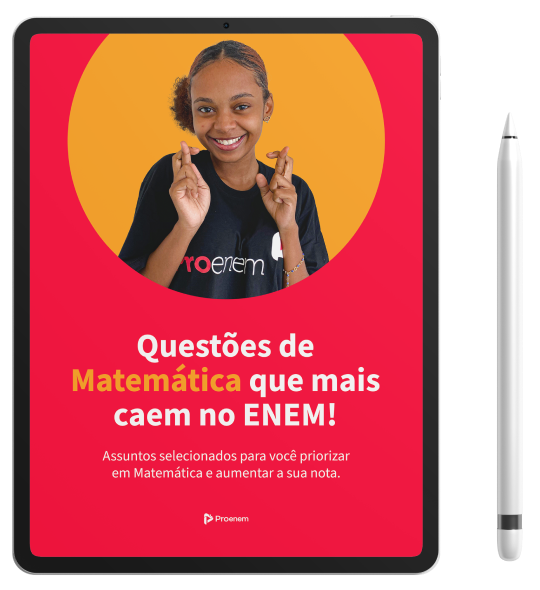SIMBOLISMO
A poesia universal é toda ela na essência simbólica. Os símbolos povoam a literatura desde sempre.

SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Todavia, ao longo da década de 1890, desenvolveu-se na França um movimento estético a princípio apelidado “decadentismo” e depois “Simbolismo”. Por muitos aspectos ligados ao Romantismo e tendo tido berço comum com o Parnasianismo, o Simbolismo gerou-se como uma reação contra a fórmula estética parnasiana, que dominara a cena literária durante a década de 1870, ao lado do Realismo e do Naturalismo, defendendo o impessoal, o objetivo, o gosto do detalhe e da precisa representação da natureza (…).
Posto não constituísse uma unidade de métodos, antes de ideais, o Simbolismo procurou instalar um credo estético baseado no subjetivo, no pessoal, na sugestão e no vago, no misterioso e ilógico, na expressão indireta e simbólica. Como pregava Mallarmé, não se devia dar nome ao objeto, nem mostrá-lo diretamente, mas sugeri-lo, evocá-lo pouco a pouco, processo encantatório que caracteriza o símbolo.
(…) Por volta de 1880, espalha-se a ideia de decadência, caracterizada em 1891 por Paul Bourget em um artigo em que ele identifica o estado de decadência com Baudelaire, místico, libertino e analisador, típico de uma série de indivíduos “incapazes de encontrar seu lugar próprio no trabalho do mundo, lúcidos para com “a incurável máscara de seu destino”, pessimistas e individualistas extremos, querendo submeter o mundo às suas necessidades íntimas, e sentindo a época como de crise e enfado, fadiga e degenerescência, dissolução e má consciência.
(Afrânio Coutinho. Introdução à literatura no Brasil. 10ªed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980).
MOMENTO HISTÓRICO
Já vimos que o final do século XIX contou com um grande desenvolvimento científico e o desabrochar da filosofia materialista. Esse quadro altera-se um pouco na transição para o século XX, período em que se encaixa o Simbolismo.
A virada do século trouxe dúvidas e temores à sociedade, que já não encontravam respostas nas correntes materialistas e racionalistas que dominavam o cenário. O processo burguês industrial crescia desordenadamente, criando incertezas quanto ao futuro e gerando animosidades entre as potências, que lutavam pelos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas.
Somado a isso, Itália e Alemanha entram nessa disputa, na medida em que avançam em sua industrialização, aumentando as tensões na Europa. As disputas por mercados e posições na África e na Ásia acirram-se, o nacionalismo desenvolve-se pelo continente europeu e a guerra entre as potências já é o temor de toda a população. Essas tensões culminam na Primeira Guerra, em 1914.
Portugal, que ansiava ampliar suas possessões na África, vê suas pretensões destruídas pelas ameaças inglesas, culminando no Ultimato de 1890. Sofre também com uma crise política interna, desde a fracassada insurreição republicana de 1891 até a República em 1910. A frustração do povo português é evidente e o sentimento pessimista coincide com a crise espiritual e a decadência de certos pensamentos filosóficos e modelos artísticos.
Em um período como esse, é difícil imaginar como se poderia explicar o mundo racionalmente, daí a negação da materialidade ressurge com força, trazendo compreensões subjetivas. O ideal de se escapar de um mundo hostil e imaginar um lugar melhor abre caminhos para tendências espiritualistas. As teorias de Freud ganham fama em todo o mundo, trazendo as ideias de subconsciente e inconsciente. Estava o cenário preparado para quem quisesse mergulhar na alma humana.

MOMENTO HISTÓRICO BRASILEIRO
No Brasil, vivia-se a consolidação da República, plena de ideias positivistas e materiais. Por não estar diretamente ligado ao processo de industrialização, acaba por não passar pelas consequências e as incertezas europeias. Disto resulta o fato de que o Simbolismo não obteve o apelo que outras escolas literárias conseguiram.
Contudo, deve-se registrar que o sul do país pôde viver algo semelhante àquilo que se passava na Europa: a Revolução Federalista que se opunha ao governo de Floriano Peixoto implicou uma intensa e sangrenta disputa, que proporcionou cenas de extrema violência e crueldade no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Floriano ainda enfrentou a revolta da Armada que sitiou o palácio do governo com os canhões dos navios da Marinha exigindo sua renúncia. O Marechal conseguiu triunfar em todas essas contendas, consolidando a República à custa do esmagamento de seus opositores. Se por um lado tais fatos reafirmavam a imposição positiva da ordem, do materialismo e do racionalismo; pelo lado derrotado, ficava a frustração, a angústia e a falta de perspectivas.
ESTÉTICA SIMBOLISTA
O Simbolismo representa, em verdade, a reação do espírito sobre a matéria, da intuição sobre a lógica, do subjetivismo ao objetivismo. Assim, não é difícil perceber que, mesmo pertencendo a uma mesma época, o Simbolismo se opõe ao Realismo e ao Naturalismo ao negar seu cientificismo e seu materialismo. Nega também a impassibilidade e a objetividade do parnasiano, a busca simbolista é pela essência do ser humano, sua alma.
De certa maneira, essa realidade subjetiva que é proposta pelo Simbolismo representa uma retomada romântica, guardadas algumas diferenças essenciais: no Romantismo o “eu” representa uma subjetividade sentimental exagerada, superficial e piegas; no Simbolismo, este “eu” é interior, espiritual: o universal só se faz através da alma individual. É a reedição da oposição entre corpo e alma, a negação da matéria e a sublimação do espírito.

Ora, para esses poetas, a ciência já não mais explicava os fenômenos relacionados ao homem. A própria ciência se via obrigada a aceitar uma visão não material do homem: a psicanálise de Freud levava à ciência o conhecimento do lado imaterial humano – o subconsciente e o inconsciente. Desta maneira, até a linguagem era vista como limitada, insuficiente para retratar a realidade, por isso, o máximo que poderia o poeta era sugeri-la.
Portanto, para o Simbolismo tudo é sugestão. A linguagem é simbólica e busca retratar os sentidos, misturando-os e criando sensações. Essa preocupação traduz-se no uso de sinestesias, aliterações e assonâncias, na introdução da musicalidade como intérprete da alma humana. A linguagem é carregada de significação, o uso das palavras ganha outros sentidos e se opõe à objetividade e precisão linguística adotada pelos parnasianos.
O simbolista busca o vazio da alma, explora o tédio, busca o vago, o sonho, a loucura. As descrições normalmente são nebulosas, como se houvesse uma cortina de fumaça diante dos olhos do poeta. A preocupação é com a essência do universo – expressa pela alma do homem – com a busca do que se esconde por trás da aparência, por isso as cores e formas adquirem valores externos à sua significação, numa clara função simbólica.
Ainda nessa perspectiva, a personificação de conceitos alegóricos dá-se na poesia pelas palavras com iniciais maiúsculas, buscando exaltá-las e transformar conceitos ou elementos totalizantes em personagens capazes de interagir com o interior humano. O pessimismo, o etéreo e o incorpóreo formam a base da linguagem Simbolista.
PRINCIPAIS NOMES SIMBOLISTAS MUNDIAIS
CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

Poeta francês, um dos principais escritores do Simbolismo. Influenciou a poesia de todo o mundo ocidental, foi acusado de desonrar a moral da sociedade da época, acabou multado pela publicação de seus poemas. É dele a popularização da temática spleen – a decadência, o tédio, a melancolia, a inércia e o fastio. Também foi teórico e, nesses textos, foi um dos primeiros a traçar as características da produção moderna, ressaltando o aspecto transitório da sociedade, captado e expresso por essa literatura.
Correspondências
A natureza é um templo onde vivos pilares
Deixam filtrar não raro insólitos enredos;
O homem o cruza em meio a um bosque de segredos
Que ali o espreitam com seus olhos familiares.
Como ecos longos que à distância se matizam
Numa vertiginosa e lúgubre unidade,
Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade,
Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam.
Há aromas frescos como a carne dos infantes,
Doces como o oboé, verdes como a campina,
E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes,
Com a fluidez daquilo que jamais termina,
Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente,
Que a glória exaltam dos sentidos e da mente.
almíscar: substância de odor penetrante e persistente.
âmbar: aroma, cheiro suave; aquilo que tem cor entre o acastanhado e o amarelado.
benjoim: resina balsâmica, aromática, usada em incensos e cosméticos.
oboé: instrumento de sopro.
prado: campina.
transfundir: transformar-se, converter-se.
STÉPHANE MALLARMÉ (1842-1898)

Poeta francês, sua principal crítica ao Parnasianismo era a de que não poderia haver estética em se apresentar diretamente a realidade. Defendia os ideais de sugestão, concebendo o poema como “mistério”, auxiliava-o nessa missão, o artifício de inverter a sintaxe das frases ressaltando a dificuldade de compreensão.
Toute l’âme résumée
Quand lente nous l’expirons
Dans plusieurs ronds de fumée
Abolis en autres ronds
Toda alma é resumida
Quando lentamente expiramos
Através de vários anéis de fumaça
Sucedidos por outros anéis
PAUL VERLAINE (1844-1896)

Poeta francês, de vida considerada escandalosa, cuja poesia reflete a contradição entre uma conduta deplorável e um ideal quase primitivo de pureza e misticismo. Entre as atribulações de sua vida, Verlaine abandonou mulher e filho para viver um romance homossexual com o jovem poeta Arthur Rimbaud. Em um acesso de fúria, resultado do alto consumo de álcool pelo que era conhecido, Verlaine disparou duas vezes sobre o amante, ferindo-o no pulso.
Apesar de tentar manter-se distante de qualquer escola literária, sua obra relaciona-se ao Simbolismo, retratando musicalidades na linguagem e temáticas melancólicas. Foi uma celebridade e considerado pelos franceses como o Príncipe dos Poetas. Muitas de suas obras foram traduzidas à época por seus fãs brasileiros, entre eles, Alphonsus de Guimaraens.
Chanson d’automne
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Canção do Outono
Os soluços graves
dos violinos suaves
do outono
ferem a minh’alma
num langor de calma
e sono.
Sufocado em ânsia,
Ai! quando à distância
soa a hora,
meu peito magoado
relembra o passado
e chora.
Daqui, dali,
pelo vento em atropelo
seguido,
vou de porta em porta
como a folha morta,
batido…
CAMILO PESSANHA (1867- 1926)

Poeta português, considerado o maior e mais autêntico poeta Simbolista português. Foi fortemente influenciado pela poesia do poeta francês Verlaine. Ainda moço, viveu em Macau e lá se viciou em ópio. Sua poesia é obscura, repleta de tristeza. Diferencia-se dos outros autores portugueses por não tratar do passado de Portugal. Pessanha sugere sensações; é o poeta da desintegração, da fragmentação; para ele, o universo é um caos: pedaços, sons e sensações – os elementos de sua dor. Seu pessimismo o leva a assumir uma postura niilista de negação da própria vida. Morreu de tuberculose ainda em Macau.
Ao longe os barcos de flores
Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila,
– Perdida voz que de entre as mais se exila,
– Festões de som dissimulando a hora.
Na orgia, ao longe, que em clarões cintila
E os lábios, branca, do carmim desflora…
Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila.
E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,
Cauta, detém. Só modulada trila
A flauta flébil… Quem há-de remi-la?
Quem sabe a dor que sem razão deplora?
Só, incessante, um som de flauta chora…
barcos de flores: casas de prostituição.
carmim: substância corante, em vermelho vivo.
cauto: cauteloso.
deplorar: lastimar.
desflorar: tirar a pureza.
festões: ramalhetes de flores.
flébil: choroso, lacrimoso.
grácil: gracioso.
modulado: harmoniosos, melodioso.
remir: libertar.
trilar: soltar a voz, gorjear.
AUTORES SIMBOLISTAS BRASILEIROS
O Simbolismo encontrou grande repercussão na Europa, principalmente na França, sendo representado por nomes como Charles Baudelaire, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. Em Portugal destaca-se a obra de Camilo Pessanha e, no Brasil, as de Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens.
CRUZ E SOUSA

João da Cruz nasceu a 21 de novembro de 1861, em Desterro, atual Florianópolis; filho de escravos, negro sem mescla, também era escravo; mas, ao que tudo indica, gozava do apreço do marechal Guilherme Xavier de Sousa, pois este alforriou toda família logo no início da Guerra do Paraguai. Mais ainda, cuidaram do pequeno João, deram-lhe o sobrenome Sousa e fizeram-no receber uma educação refinada, frequentando o Liceu Provincial Catarinense, onde estudou com Fritz Muller e conheceu Charles Darwin.
Com a morte do protetor, é obrigado a abandonar os estudos e começa a trabalhar na imprensa catarinense, onde é vítima de preconceito e levado a abandonar sua terra natal. Cruz e Sousa chega a ser nomeado promotor público em Santa Catarina, mas é impedido de assumir o cargo por ser negro.
No Rio de Janeiro colabora eventualmente com alguns jornais, entretanto só consegue um miserável emprego na Estrada de Ferro Central do Brasil. Após sua primeira desilusão amorosa – apaixonara-se por uma artista branca que não lhe correspondeu – casa-se com Gavita Rosa Gonçalves, também negra, com quem teve quatro filhos. As desgraças em sua vida parecem ser constantes, já que todos os seus filhos morreram prematuramente – o mais velho com apenas dezessete anos! – e sua esposa, após alguns anos enlouquece e é internada em um manicômio.
Sua vida foi marcada por humilhações, pobreza e doenças; logo após perder seus pais, contrai tuberculose e procura refúgio na cidade mineira de Sítio. Aos 36 anos vem a falecer na mais profunda miséria. Seu corpo foi trasladado de Minas para o Rio fora do caixão, em um vagão destinado a animais.
Sua poesia é evidentemente marcada por essas desgraças, apresentando-se inicialmente como subjetiva e angustiada, tratando da dor e do sofrimento do homem negro, em evidente colocação pessoal; posteriormente universaliza esses sentimentos a todos os seres humanos.
Sua obra apresenta uma rica diversidade, na qual se encontram a anulação da matéria para a liberação do espírito, a valorização da morte, o culto da noite, o pessimismo e, até mesmo, certo satanismo. Quanto à forma, percebe-se um cuidado quase parnasiano, o verbalismo requintado, o gosto pelo soneto, aliado à força das imagens e os jogos sonoros.
Sua obra revela posturas filosóficas e metafísicas, do desejo de fugir da realidade à integração espiritual com o cosmo. Para isso, utiliza-se de superposição de imagens, com fortes sugestões sensoriais e uma obsessão pela cor branca e tudo aquilo que sugere brancura. Exalta o misterioso, o sagrado, o conflito entre corpo e alma, a angústia e a sublimação sexual através de frequentes aliterações, predominância de substantivos e o emprego de maiúsculas, dando valor absoluto a certos termos.
Sua poesia é certamente resultado da opressão vivida, não só pelo sistema capitalista, mas, principalmente, por seu drama racial e pessoal. Ainda que tenha sido acusado por alguns de ter se omitido no que se referia à condição do negro na sociedade – lembremos que Cruz e Sousa não é um “poeta social”, típico da terceira geração romântica – sua obra parte da consciência e da dor de ser negro e chega à dor universal de ser homem, já buscando a transcendência.
Antífona
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas…
Incensos dos turíbulos das aras
Formas do Amor, constelarmante puras,
De Virgens e de Santas vaporosas…
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas …
Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume…
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume…
Visões, salmos e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes…
Dormências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes…
Infinitos espíritos dispersos,
Inefáveis, edênicos, aéreos,
Fecundai o Mistério destes versos
Com a chama ideal de todos os mistérios.
Do Sonho as mais azuis diafaneidades
Que fuljam, que na Estrofe se levantem
E as emoções, todas as castidades
Da alma do Verso, pelos versos cantem.
Que o pólen de ouro dos mais finos astros
Fecunde e inflame a rima clara e ardente…
Que brilhe a correção dos alabastros
Sonoramente, luminosamente.
Forças originais, essência, graça
De carnes de mulher, delicadezas…
Todo esse eflúvio que por ondas passa
Do Éter nas róseas e áureas correntezas…
Cristais diluídos de clarões álacres,
Desejos, vibrações, ânsias, alentos
Fulvas vitórias, triunfamentos acres,
Os mais estranhos estremecimentos…
Flores negras do tédio e flores vagas
De amores vãos, tantálicos, doentios…
Fundas vermelhidões de velhas chagas
Em sangue, abertas, escorrendo em rios…
Tudo! Vivo e nervoso e quente e forte,
Nos turbilhões quiméricos do Sonho,
Passe, cantando, ante o perfil medonho
E o tropel cabalístico da Morte…
(Broqueis, 1897)
ALPHONSUS DE GUIMARAENS

Afonso Henriques da Costa Guimarães, natural de Ouro Preto, em Minas Gerais, nasceu a 24 de julho de 1870 e formou-se em Direito em São Paulo, onde tomou contato com um grupo de poetas simbolistas. Tornou-se promotor e depois juiz em Minas Gerais. Sua grande desilusão amorosa acontece quando ele ainda jovem perde a noiva, sua prima Constança, que tinha apenas dezessete anos e era filha de Bernardo Guimarães, o autor de A escrava Isaura.
Mesmo tendo se casado mais tarde, jamais se esqueceu da morte da amada e esse amor estará presente em toda sua obra. Isolou-se em Mariana, MG, e quis ser conhecido como o “Solitário de Mariana”, ainda que não fosse tão solitário, já que vivia com a esposa e seus catorze filhos.
De certa forma, o tema da morte possibilita ao autor um ponto de contato com a geração ultrarromântica, por outro lado também cria uma atmosfera mística e litúrgica, chegando a ser considerado como o poeta mais místico de nossa literatura.
Retrata sempre o amor pela noiva e sua profunda religiosidade e devoção pela Virgem Maria. A morte surge como único meio de atingir a sublimação e aproximar o poeta de ambas. Em sua poesia abundam referências ao corpo da amada, ao esquife, às orações às cores roxa e negra, ao sepultamento e a tudo que fosse ligado a ideias fúnebres. Renovava essa temática por demais romântica aprofundando aspectos do inconsciente desencadeados pela imaginação.
Sua poesia é uniforme e equilibrada, menos universal que a de Cruz e Sousa, pois limita-se ao ambiente de sua adolescência e de seu drama sentimental. Sua poesia é repleta de virgens mortas, anjos e querubins, nela faz uso constante da linguagem de sugestão e de aliterações, demonstra uma inconfundível tendência à autopiedade. Para ele, o indivíduo enfrenta três inimigos da alma: o diabo, a carne e o mundo.
Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar…
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar…
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar…
E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar…
Estava perto do céu,
Estava longe do mar…
E como um anjo pendeu
As asas para voar…
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar…
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par…
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar…
(Pastoral aos crentes do amor e da morte, 1923)