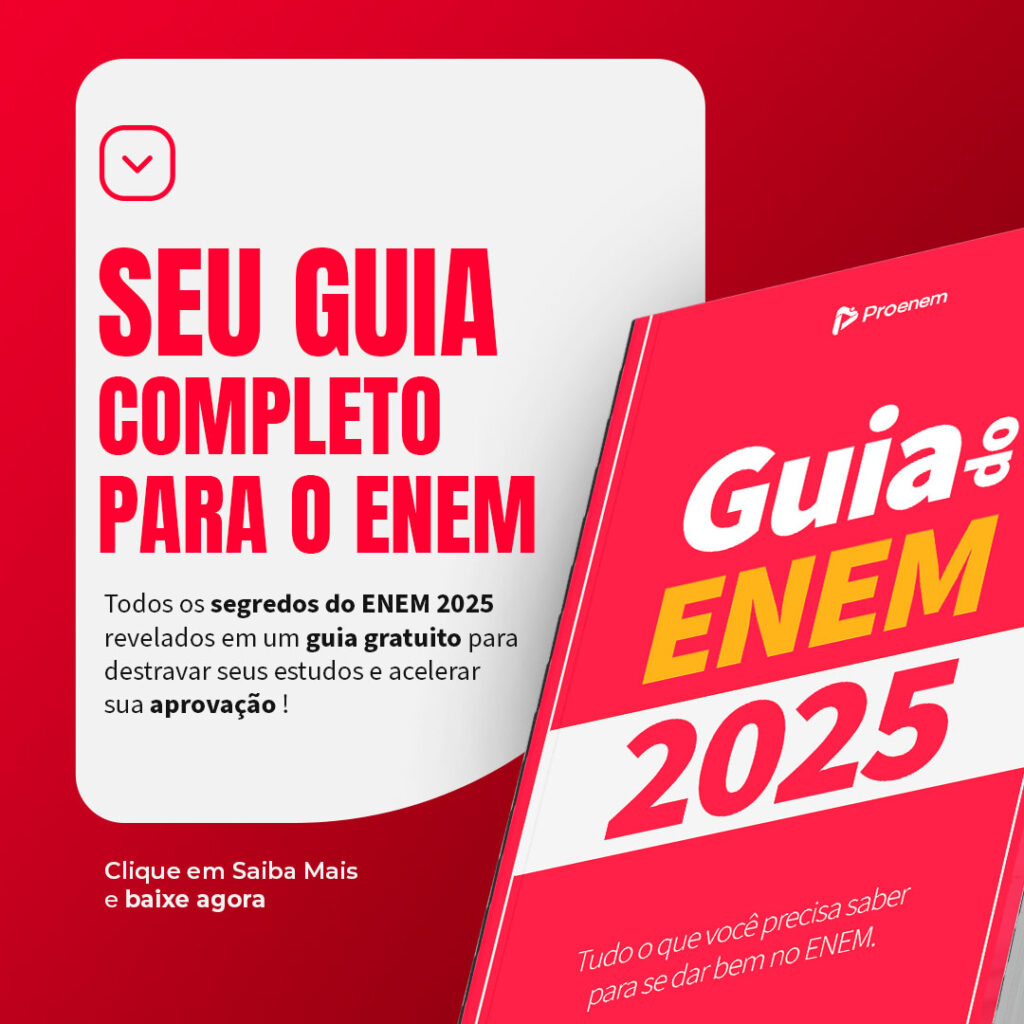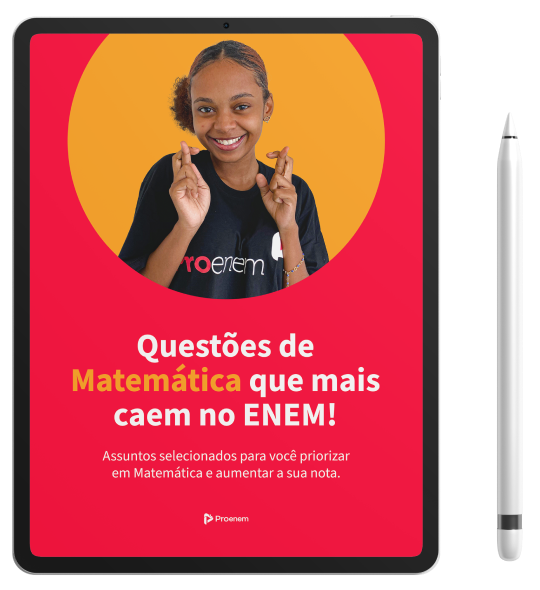BARROCO
O século XVI marca a ampliação dos limites geográficos do mundo conhecido; o homem passa a acreditar na sua capacidade de dominar a natureza e transformá-la por meio da razão.

MOMENTO HISTÓRICO DO BARROCO
O século XVII parece ser a continuação da glória renascentista que se anunciava: os conhecimentos científicos e as grandes descobertas tiveram espaço para florescer; o antropocentrismo domina o pensamento europeu, à exceção da Península Ibérica, que se fecha aos novos ares renascentistas e volta-se a uma religiosidade extremada, levando Portugal e Espanha a ficar de fora dos avanços produzidos na época. O final do século XVII , portanto, guarda alterações no quadro econômico, social, político e religioso, abalando a euforia antropocêntrica estabelecida.
O século XVII é marcado pelo mercantilismo, baseado no metalismo, na balança comercial favorável e no acúmulo de capitais; a burguesia surgia com imenso poder econômico nesse contexto. Contudo, se por um lado, a conjuntura econômica favorecia a ascensão de setores populares, tais quais os burgueses; por outro, a sociedade não se mostrava aberta em relação às estruturas política e social.
Apesar de deter um forte poder econômico, a burguesia estava afastada do poder político, constituía o Terceiro Estado, a mais baixa das três classes impermeáveis pelas quais a sociedade se organizava. As outras duas classes, o clero e a nobreza, gozavam de inúmeros privilégios e controle absoluto sobre as decisões políticas e os comportamentos sociais. Os camponeses e artesãos sofriam com pesados impostos e a falta de direitos. A burguesia fortalecia-se com seu poder econômico e pressionava politicamente a nobreza e o rei, a fim de conseguir maior participação política no Estado.
O absolutismo monárquico centralizava todo poder nas mãos do rei, considerado o representante de deus na Terra. Por mais estranho que possa parecer, durante algum tempo, esse sistema, ainda que excludente, beneficiou a própria burguesia, já que lhe convinha um governo centralizado que unificasse e ampliasse as condições do mercado nacional.
CONTEXTO HISTÓRICO PORTUGUÊS
Se Portugal viveu seus dias de glória no primeiro quarto do século XVI, é bem verdade que o último quarto do mesmo século representa o pior período de sua história. A expansão ultramarina levou Portugal a conhecer uma aparente grandiosidade: Lisboa era a capital mundial das especiarias, mas a agricultura nacional era abandonada.
As colônias na África e na América, que renderam à Espanha um enorme acúmulo de metais preciosos, não deram a Portugal o mesmo benefício: suas colônias nada forneceram de riquezas em imediato, especialmente o Brasil. Ouro e prata, principais objetivos do metalismo mercantilista, não foram achados rapidamente no Brasil, levando Portugal a uma condição de dependência de seu comércio de especiarias. Com a decadência desse comércio, observa-se o franco declínio da economia portuguesa. Um vasto domínio territorial, de gastos monumentais com uma metrópole em crise econômica e política.
Impelido pelo sonho megalomaníaco de transformar Portugal em um grande império, o jovem rei D. Sebastião parte para a conquista de terras africanas e desaparece em meio ao insucesso na batalha de Alcácer-Quibir, em Marrocos, em 1578, sem deixar descendentes.

A figura acima representa Dom Sebastião I, pintura de Cristóvão de Morais.
Dois anos mais tarde, Felipe II da Espanha anexa Portugal a seu reino e consolida a unificação da Península Ibérica. O desaparecimento do jovem rei e a perda da autonomia levam o povo português a uma imensa amargura para olhar o futuro e uma melancolia ao relembrar o passado. Cria-se um ambiente de desilusão e esperança na volta do monarca desaparecido, que conduziria Portugal à glória, transformando-o no Quinto Império. Essa crença messiânica ganha o nome de Sebastianismo e teve como um dos maiores representantes o próprio padre Antônio Vieira.
Com a unificação da península, a Contrarreforma se fortalece e o ensino torna-se praticamente um monopólio nas mãos dos jesuítas, além de estabelecer-se uma forte censura eclesiástica, um obstáculo praticamente intransponível a qualquer avanço na área do saber. Enquanto a Europa experimenta um rico tempo de descobertas científicas e inovações tecnológicas, a Península Ibérica permanece como mantenedora da cultura medieval.
ESTÉTICA BARROCA
Barroco é a denominação dada às manifestações artísticas do século XVII, daí também ser conhecido como seiscentismo. A palavra barroco tem origem controversa, mas a hipótese mais conhecida versa que o nome designa um tipo de pérola de forma irregular, imperfeita, desigual, assimétrica. A estética barroca guarda as qualidades da pérola que lhe nomeia, já que representa o intenso conflito interno do homem do ano de 1600: por um lado, o racionalismo e o renascimento, por outro, a Contrarreforma. Essa antítese é retratada no estilo, gerando assimetria, confusão, rebuscamento e paradoxos.

A figura acima representa a Pérola Barroca.
A contradição social e cultural produz a matiz dos conflitos retratados pelo barroco: teocentrismo x antropocentrismo, fé x razão, alma x corpo, bem x mal, perdão x pecado, espírito x matéria, deus x homem, virtude x prazer. O racionalismo oferece o prazer e a vida material; a Igreja, a volta aos valores medievais, com a renúncia aos prazeres mundanos e à mortificação da carne.

A figura acima representa Caravaggio, São Francisco em êxtase.
Essa preocupação insana a qual era submetido o homem seiscentista o levava apenas a crer na brevidade da vida, na efemeridade da existência, restando a ele aproveitar o tempo que lhe restava (carpe diem). Longe de ser positiva, essa era uma atitude pessimista: devia-se aproveitar a vida, pois a morte já chegava. É claro que, após gozar dos prazeres da carne, restava o sofrimento, o pecado e o arrependimento. Era o momento de pedir perdão e de se redimir frente a deus. Assim, o homem barroco estava sempre enfrentando o dilema de aproveitar o tempo que lhe restava na terra e pedir perdão pelos pecados que cometeu ao desfrutá-lo.
As lutas religiosas e as dificuldades econômicas decorrentes da decadência do comércio de especiarias estabelecem as condições da crise por que passam os portugueses, gerando tensão e desequilíbrio, características tão marcantes do Barroco. Dessa maneira, o culto exagerado da forma, a busca pelo detalhe, o rebuscamento, o uso sobrecarregado de figuras de linguagem e, até mesmo, uma tendência sensualista são expressões do espírito seiscentista. Na literatura, pode-se perceber claramente duas tendências barrocas: o Cultismo e o Conceptismo.
Cultismo
Remete-se ao rebuscamento no plano formal. Caracteriza-se pelo uso de linguagem culta, rebuscada e extravagante; um vocabulário sofisticado, com grande número de figuras de linguagem (principalmente a metáfora, a antítese e a hipérbole) e jogos de palavras. A valorização dos pormenores e a exploração de efeitos sensoriais como cor, som, forma e volume, além de construir imagens violentas e fantasiosas. É um estilo presente sobretudo na poesia. A maior influência cultista pertence ao poeta espanhol Luís de Gôngora, pelo qual também ficou conhecido o estilo como Gongorismo.

A figura acima representa o Rebuscamento ornamental em igreja da Bahia.
Conceptismo
A palavra remete à origem espanhola concepto (conceito, ideia) e, por isso, refere-se ao estilo que valoriza o jogo de ideias, construído a partir das sutilezas do raciocínio lógico, com valorização do pensamento através de analogias e alegorias. É um estilo racionalista, que utiliza uma retórica aprimorada, bem elaborada; normalmente manifestado na prosa. O maior representante conceptista foi, sem dúvida, o espanhol Francisco de Quevedo, que também empresta seu nome para apelidar o gênero: Quevedismo.

A figura acima representa Francisco de Quevedo.
Apesar de estilos diferentes, é importante ressaltar que ambos retratam a mesma escola barroca. Portanto, não é difícil imaginar que a produção de um autor pode apresentar traços cultistas e conceptistas; por vezes, um mesmo texto enquadra-se nas características dos dois estilos, sem que haja prejuízo na estética da obra.
CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO
No século XVII, o Brasil era um importante empreendimento comercial de Portugal, o grande celeiro de cana-de-açúcar. Com o declínio do comércio de especiarias, a colônia na América torna-se a maior fonte de riquezas de Portugal. Tudo aqui era organizado em torno dos engenhos de cana, concentrados na Zona da Mata nordestina.
Os colonos portugueses que vinham ao Brasil, quando não eram degredados – desajustados na sociedade europeia –, estavam apenas interessados na exploração da cana e no enriquecimento rápido, que os permitisse um breve retorno a Portugal. Em momento algum se observou um movimento de enraizamento na Colônia, de construção de uma vida social na América portuguesa.
A realidade brasileira era de violência, de escravização do negro e de perseguição aos índios. Aqui não havia a opulência da aristocracia europeia – o mercado consumidor do açúcar –, mas os incultos e, na maioria das vezes, analfabetos comerciantes interessados no lucro. Apesar disso, surgia na colônia um grupo de pessoas letradas: advogados, religiosos, homens de letras, cuja formação dava-se em Portugal por serem filhos desses ricos comerciantes ou fidalgos que se instalaram no Brasil.
A cidade de Salvador, capital da Colônia, era, além de um centro político e econômico, um verdadeiro – e único – polo de produção cultural, reunindo as manifestações artísticas da época, ainda que não houvesse sentimento de conjunto, representando meramente esforços individuais. O estilo e as características eram simplesmente transplantadas da Europa para cá, através dos poucos que se aventuravam nessa área.
Contudo, a política brasileira vivia um momento delicado: com a unificação da Península Ibérica e a passagem do trono português à coroa espanhola, o conflito já deflagrado entre os Países Baixos e a Espanha passara a ter reflexos em Portugal e em suas posses. Os holandeses perderiam sua participação nos lucros da produção e comércio do açúcar, assim partiram para a invasão da colônia portuguesa na América: o Brasil.
Essas invasões começaram por Salvador, ocupada por mais de um ano. Apesar de terem demorado pouco mais de 24 horas para ocuparem a cidade, não conseguiram passar de seus limites, encontrando resistência nos colonos que, refugiados em fazendas próximas à capital, impediram a expansão dos invasores. Com a chegada de reforços, duras batalhas foram travadas até a expulsão dos holandeses.
Contudo, as invasões continuaram: em 1635 a faixa litorânea que vai de Sergipe ao Maranhão estava sob domínio holandês, com destaque para a invasão de Pernambuco em 1630 e o governo de Maurício de Nassau que promoveu intensa urbanização, com inúmeras benfeitorias em Recife e Olinda. Somente com a Insurreição Pernambucana, que durou dez anos, houve a expulsão definitiva dos holandeses no ano de 1654.

(Detalhe de O cristo do Carregamento da Cruz, madeira policromada, por Aleijadinho, no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas, MG)
A arte barroca brasileira segue os mesmos preceitos estéticos do barroco europeu nas artes plásticas, com destaque para o escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Apesar de suas obras terem sido produzidas no século XVIII, elas retratam as características do barroco. Na figura em destaque, por exemplo, Aleijadinho mostra o imaginário da dor e do sofrimento relacionado ao imaginário religioso. Não há um Cristo glorioso e alegre, ou mesmo reflexivo, mas um Cristo de paixão e morte na cruz.
GREGÓRIO DE MATOS GUERRA
O maior poeta barroco brasileiro nasceu em Salvador, Bahia, provavelmente a 23 de dezembro de 1636 (apesar de alguns historiadores datarem seu nascimento em 1633 e outros em março de 1623). Filho de uma família abastada, teve acesso ao melhor da educação na época, iniciando seus estudos no Colégio dos Jesuítas e terminando-os em Coimbra, Portugal, onde formou-se em Direito. Tornou-se juiz, foi Procurador da Bahia em Lisboa, clérigo e ainda encontrou tempo para ensaiar alguns poemas satíricos. Por causa deles, viu-se obrigado a retornar ao Brasil onde foi convidado a trabalhar com os Jesuítas.
Gregório foi tesoureiro-mor e vigário-geral (ainda que sempre tenha se recusado a vestir-se como clérigo), mas continuou exercendo sua veia satírica. Por seu comportamento, foi destituído de seus cargos eclesiásticos e partiu para uma vida mais boêmia, transformando-se em um verdadeiro cronista da época, castigando com suas críticas e sátiras a sociedade baiana, ridicularizando impiedosamente as autoridades civis e religiosas. Por isso, foi duramente perseguido pelo governador baiano Antônio de Souza Menezes, o Braço de Prata e denunciado à Inquisição por apresentar hábitos de “homem solto sem modo de cristão”.
Casou-se com Maria dos Povos, com quem teve um filho, mas não parou nem de advogar nem de escrever suas poesias satíricas e pornográficas. Seus poemas contra o Governador Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho fez com que seus filhos o jurassem de morte. Os amigos de Gregório – sim, ele tinha amigos! – armaram uma forma de prendê-lo e enviá-lo à força para Angola, de modo a preservar-lhe a vida.
Profundamente desgostoso com a vida, envolveu-se em uma conspiração de militares portugueses que planejavam a independência de Angola. Gregório colaborou com a prisão dos líderes do movimento, mostrando sua fidelidade à corte portuguesa. Como prêmio, pôde voltar ao Brasil.
A notícia de sua volta causou enorme repercussão em Salvador, onde foi proibido de entrar. Já doente, sua volta se deu em Recife, longe de seus desafetos. Morreu em 26 de novembro de 1695 (alguns autores apontam janeiro de 1696 como a data de sua morte) vítima de uma febre que contraíra ainda em Angola.
Gregório desenvolveu sua obra em poesias sacras, lírica amorosa, poesias satíricas e escritos erótico-irônicos. Araripe Júnior, importante crítico literário, em 1894, definiu assim o poeta baiano: “um notabilíssimo canalha, eis o que ele era”. Essa fama sempre acompanhou Gregório de Matos devido a ter primado pela irreverência. Afrontou os valores e a falsa moral da sociedade baiana de seu tempo. Comportou-se de maneira a escandalizar todo o povo da colônia e da metrópole. Com ele, o sisudo barroco “se tropicaliza, come banana, grita palavrões e põe os pés no chão brasileiro”, segundo afirma José de Nicola.
Rompeu com os modelos europeus do barroco, fez a denúncia das contradições da sociedade baiana e criticou implacavelmente todos os grupos sociais, fossem governantes, fidalgos, comerciantes, escravos, clérigos, prostitutas, mulatos etc. Gregório foi o primeiro poeta popular, conseguiu passear por todas as camadas sociais, incorporou em sua linguagem vocábulos indígenas e africanos, sem contar a linguagem baixa e chula, carregada de palavrões e obscenidades. Por sua produção e comportamento, ganhou o apelido de Boca do Inferno.
Nenhum de seus poemas foi publicado em vida, todos foram transmitidos oralmente até meados do século XIX quando foram reunidos em um livro. Houve várias compilações que deixaram a desejar, criando controvérsia sobre a autoria de alguns poemas atribuídos a Gregório de Matos. Sua obra basicamente pode ser dividida em sacra, amorosa, satírica e erótica.
Sua poesia sacra é bastante abrangente, desde poemas comemorativos por festas de santos até aqueles de contrição e reflexão moral. Nessa vertente, obedeceu aos preceitos do barroco europeu, com inúmeras referências bíblicas, apresentando temas como o amor a deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão. Outras vezes apontou o desconcerto do mundo, lembrando a transitoriedade da vida e do tempo, fazendo uso do carpe diem. Em sua linguagem encontram-se inúmeras inversões e figuras de linguagem, além da construção de imagens fortes e de um espírito extremamente contraditório, abusando de antíteses e paradoxos, bem ao estilo barroco.
A Jesus Cristo Nosso Senhor
Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Porque quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.
Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:
Que a mesma culpa que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.
Se uma ovelha perdida e já cobrada
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na sacra história,
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória
A lírica amorosa de Gregório é marcada pelo contraste entre corpo/alma, levando ao inevitável sentimento de culpa no plano espiritual, por se deixar levar pelo pecado da carne. A própria figura feminina revela-se como a personificação do pecado, levando o poeta à perdição.
Sonetos a D. Ângela de Sousa Paredes
Anjo no nome, Angélica na cara
Isso é ser flor, e Anjo juntamente
Ser Angélica flor, e Anjo florente
Em quem, se não em vós se uniformara?
Quem veria uma flor, que a não cortara
De verde pé, de rama florescente?
E quem um Anjo vira tão luzente
Que por seu Deus, o não idolatrara?
Se como Anjo sois dos meus altares
Fôreis o meu custódio, e minha guarda
Livrara eu de diabólicos azares
Mas vejo, que tão bela, e tão galharda
Posto que os Anjos nunca dão pesares
Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda
Sua obra satírica é extensa, assim como seus desafetos: ricos, pobres, negros, brancos, mulatos, padres, freiras, autoridades, amigos, inimigos, toda a sociedade baiana foi vítima de sua “lira maldizente”. Esses poemas não se resumem à zombaria, mas revelam uma crítica aos vícios da sociedade. Sua produção satírica revela nosso poeta mais original, fugindo dos padrões europeus, estando completamente voltados à realidade baiana. Fica evidente um sentimento nativista, o início do processo de uma consciência crítica nacional, separando o que é brasileiro do que é exploração lusitana.
O que falta nessa cidade? Verdade.
Que mais por sua desonra? Honra.
Falta mais que se lhe ponha. Vergonha.
O demo a viver se exponha,
Por mais que a fama a exalta,
Numa cidade, onde falta,
Verdade, Honra, Vergonha.
(…)
E nos frades há manqueiras? Freiras
Em que ocupam os serões? Sermões
Não se ocupam em disputas? Putas.
Com palavras dissolutas
me concluís na verdade,
que as lidas todas de um Frade
são Freiras, Sermões, e Putas.
O açúcar já se acabou? Baixou
E o dinheiro se extinguiu? Subiu
Logo já convalesceu? Morreu.
À Bahia aconteceu
o que a um doente acontece,
cai na cama, o mal lhe cresce,
Baixou, Subiu, e Morreu.
A Câmara não acode? Não pode
Pois não tem todo o poder? Não quer
É que o governo a convence? Não vence.
Que haverá que tal pense,
que uma Câmara tão nobre
por ver-se mísera, e pobre
Não pode, não quer, não vence.
Sua poesia erótico-pornográfica exalta a sensualidade da mulher, normalmente as amantes que conquistou no Recôncavo Baiano. Expressava sua volúpia, seus desejos e seus desencontros. Cantava também os escândalos sexuais que ocorriam nos conventos, lugares que, segundo nosso “cronista” imperavam o pecado, a sodomia e a homossexualidade.
A outra freira, que satirizando a delgada fisionomiado poeta lhe chamou “pica-flor”
Se Pica-flor me chamais,
Pica-flor aceito ser,
mas resta agora saber,
se no nome, que me dais,
meteis a flor, que guardais
no passarinho melhor!
se me dais este favor,
sendo só de mim o Pica,
e o mais vosso, claro fica,
que fico então Pica-flor.
PADRE ANTÔNIO VIEIRA
“Devemos dar muitas graças a deus por fazer este homem católico, porque se o não fosse poderia dar muito cuidado à Igreja de deus”. O homem a quem se referia o papa Clemente X era Antônio Vieira, o “monstro dos ingênuos e príncipe dos oradores”. Vieira nasceu em Lisboa, em 6 de fevereiro 1608 e aos sete anos veio para a Bahia, onde, aos 15 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Seu retorno a Portugal deu-se somente em 1640, após a Restauração – movimento pelo qual Portugal libertou-se da Espanha – quando saúda o rei D. João IV, de quem se tornaria conselheiro e confessor e que o nomearia representante e mediador de Portugal nas relações econômicas e políticas internacionais. Sua atuação nunca foi meramente religiosa. Seus sermões defendiam suas posições políticas, voltando contra si a pequena burguesia cristã, por defender o capitalismo judaico e os cristãos novos; os pequenos comerciantes, por defender um monopólio comercial; os administradores e colonos, por defender os índios. Teve problemas inclusive com a própria Inquisição que o condenou e o prendeu por dois anos, sob a acusação da defesa de cristãos-novos.
Vieira pregou a todos, brancos, negros, índios, brasileiros e portugueses. Fez de seus sermões sua principal arma para veicular suas ideias, postas em prática na catequese, na defesa dos índios e da colônia, quando da invasão holandesa. Quando no púlpito, o padre tratava de todos os assuntos que envolviam e preocupavam o auditório; tais encontros eram praticamente o único espaço onde era possível informar-se e refletir sobre a conjuntura e os acontecimentos da vida e do mundo. Em 1697, no colégio da Bahia, Antônio Vieira faleceu, deixando mais de 500 cartas, 200 sermões e três obras proféticas.
História do futuro, Esperanças de Portugal e Clavis Prophetarum constituem as profecias de Vieira. Nelas, notam-se o sentimento sebastianista e as esperanças de Portugal em tornar-se o Quinto Império do Mundo, uma “interpretação” alegórica de uma profecia bíblica. Esses textos demonstram o caráter nacionalista exagerado e a servidão incondicional, típica dos jesuítas.
As cartas de Vieira dizem respeito ao relacionamento entre Portugal e Holanda, à Inquisição e os cristãos-novos e, finalmente, aos acontecimentos da colônia. Esses documentos possuem mais valor histórico que propriamente literário.
A principal vertente da obra de Antônio Vieira, sem dúvida, encontra-se em seus sermões. Produzidos no estilo conceptista, são textos de brilhante retórica em que o pregador utiliza-se da lógica e de uma expressão clara e singela para convencer, apresentar e provar ideias e conceitos. Vieira pregou no Brasil, em Portugal e na Itália, sempre com grande repercussão.
Foi, seguramente, um gênio da língua, obtendo efeitos extraordinários, sem utilizar-se de exageros ou metáforas: um discurso inventivo e original, de grande engenhosidade, com clara construção discursiva, seguindo uma estrutura clássica:
• Introito, exórdio ou introdução – apresenta um tema (normalmente um texto bíblico) em que se fundamenta toda a argumentação, ligando-o à introdução do assunto principal do sermão.
• Demonstração ou argumento – é o desenvolvimento do tema, respondendo à questão levantada procurando convencer o ouvinte. Apresenta argumentos e exemplos, muitas vezes tirados da história ou da Antiguidade, buscando ampliar os limites do texto.
• Peroração ou conclusão – procura despertar no ouvinte sentimentos que decorram da argumentação.
Entre seus principais sermões, destacam-se:
• Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda (Bahia, 1640) – coloca-se contrário à invasão holandesa.
• Sermão do mandato (Capela Real de Lisboa, 1645) – desenvolve o tema do amor místico.
• Sermão de Santo Antônio (aos peixes) (Maranhão, 1654) – posiciona-se contrariamente à escravização dos índios.
• Sermão da Sexagésima (Capela Real de Lisboa, 1655) – apresenta como tema a própria arte de pregar.